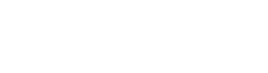© Henrique Patrício
Mappa Muttandi
«Mappa Mutandi» é um projeto da Tarrafo – Associação Cultural que pretende levar o público a descobrir a Europa na história e na memória da cidade de Coimbra e, ao mesmo tempo, a descobrir a Europa que cada um de nós pretende habitar.
Nas árvores que dão forma à cidade, encontrámos o reflexo fiel de um poder de transformação que é vital e que se alimenta da diversidade e da solidariedade próprias da floresta. Depois, oferecemos às árvores as histórias e recordações de tantos europeus de Coimbra, ilustres ou anónimos, que transformando a cidade se tornaram outros. E assim fomos descobrindo este maravilhoso mapa, de contornos vivos e mutáveis, plantado na memória da cidade.
Histórias - Textos na íntegra
Oliveira
Interpretação: Cláudio Vidal
Tradução e interpretação em árabe: Saba Abdulghani
«Ser simples, correr as ruas, sem saber já sobre que Livro meu avô deitava a fé, nesta terra tomada por tantos. Correr as ruas da cidade e saber que é feita de nós todos. É simples, ser como eu sou.
Eu sei que esta terra terá muitos nomes e esses nomes serão de muitas línguas, terão muitas fés e todas farão como as árvores: enquanto por sobre a terra se servirem de Deus para ser donos de reinos e senhores de guerra, debaixo dela todos os credos darão as raízes, como mãos que se ajudam. Como nós nos ajudamos aqui, a erguer o templo que me dizem que é para o Deus que eu jurei, o templo em que não vai haver lugar para mim.
Mas eu sei que vai haver, que eu pus lá o meu nome nas pedras. Eu conheço-o melhor do que eles e os meus irmãos de trabalhos também: dentro do templo trabalhámos muito, doem-nos os braços, cantámos baixinho, levou-nos a mocidade e a arte. Mas a natureza fez os homens livres, como as árvores, que nunca servem senão a si mesmas. Eu e os meus irmãos, dentro do templo, plantámos uma floresta de pedra, porque sabemos que debaixo dela as árvores se ajudam como nós, onde e quando é preciso, sem olhar a quem e em silêncio, porque a língua delas é a de não falar.
Mas, o templo cresce e é tão belo e tão bom. Oxalá dure muito mais do que nós todos juntos. Oxalá dure como uma oliveira, até já ninguém saber de nós. É belo e bom e não há deus que da boa obra colha desagrado.
Nas noites mais duras, por não ter com quem falar, volto ao templo e conto-lhe as minhas coisas, e o que eu lhe digo e ele me diz ficará sempre comigo. Uma noite, cá fora, escrevi na pedra: “Escrevi isto como recordação permanente do meu sofrimento. A minha mão perecerá um dia, mas a grandeza ficará”.»
Era uma oliveira, o moço, e ainda não o sabia. Assim que pousou o cinzel, já não pôde mover-se. Os pés nus alargaram, endureceram, agarraram-se ao chão como uma raiz, as pernas e o tronco rapidamente cobertos pela árvore que o engolia, os olhos verdes mudaram-se em pequenas folhas e em folhas também as pontas dos dedos e os cabelos. Sempre fora feito para dar, o moço, e não o sabia. Mas o mapa deu-lhe a ventura de ficar por séculos e séculos a guardar o templo.
Carvalho
Interpretação: Helder Wasterlein
Eis Eduardo Alemán, em Colónia, Alemanha, sentado na cama do seu quarto de hotel. Está há mais de meia hora parado, a olhar para uma arca de madeira que acabou de trazer do mercado de antiguidades à beira-rio.
O móvel é simples e austero, envernizado grosseiramente, com um fecho pesado de ferro e pés incertos. Acabou de lhe ocorrer que é capaz de não ser fácil fazer com que aqueles 60 ou 80 kg de madeira maciça de carvalho atravessem um continente e um oceano. Quase tão difícil como convencer Enrique a deixá-lo entrar em casa com a arca que o há-de perseguir de Colónia até Buenos Aires. Já imaginava o marido a rir-se da lenga lenga do homem do mercado, que jurou a pé juntos que a boa da arca era do século XVI e pertencera a um padre jesuíta, «um exímio doutor na Universidade de Portugal, imagine, é uma verdadeira preciosidade, apesar deste ar modesto. Como se chama, Senhor? Eduardo, pois Eduardo, veja bem: quatro, talvez cinco, meu deus cinco!, séculos de arca, encontrada entre os trastes de um professor que fugiu para a América. Enfim, toda uma vida aqui a olhar para si, Eduardo, uma vida restaurada e pronta para durar mais cinco séculos, sem ponta de caruncho e a um preço – convenhamos – que nem para a madeira daria, hem?»
E claro, Eduardo não conseguiu voltar ao hotel sem mais 80 ou 100 kg de arca, um problema para resolver e Enrique na sua cabeça já a moer-lhe o juízo: «ai, Eduardo Eduardo, que te pelas e te perdes por qualquer boa fábula da velha Europa, sempre a cruzar as águas, montada no seu tourito branco!…»
Convenhamos que era difícil não lhe dar razão. Desta vez talvez tivesse exagerado. Mas como não? Admirou-a de perto, levantou a tampa pesada, fez correr os dedos pela madeira macia, alisada pelo tempo, cheirou-a por dentro demoradamente, era maravilhosa. Percebeu, então, que alguém tinha gravado por dentro da tampa uma inscrição. Seria latim? Teria Eduardo lido bem? “QUIA NATURA HOMINES LIBEROS…” Que natureza nos teria feito livres?
Mas, não, não podia ser e Eduardo sabia. Mais do que com as pontas dos dedos, lia com a imaginação. Nunca um carvalho fora cortado há tanto tempo para fazer uma arca, que nunca viu o Mondego, ser gravada por um cinzel que Francisco Suárez nunca teve, nem andar pela Europa de mão em mão e de século em século, até chegar a Heinrich Rommen, que nunca a poderia ter guardado antes de ser expulso da sua Colónia natal pela ameaça da Gestapo. E o vendedor do mercado nem devia saber onde fica Coimbra ou se Suárez existiu ao certo. Mas, logo por sorte, tinha arranjado o discurso certinho para um argentino bem informado e muito predisposto a receber com sentimentos ambíguos as manhas da velha Europa e, ainda por cima, capaz de muita fé nas antiguidades vendidas em mercados.
Eduardo saiu em busca de quem lhe transportasse o mono para a Argentina por uma pequena fortuna, bebeu meio litro de boa cerveja e voltou para o pé da arca, pensativo e embevecido. Onde um homem vê um carvalho, outro verá um barco e outro uma cruz, um o monumento e outro um mono, um a glória e outro o jugo, um tempo e outro lucro.
Eduardo assim ficou a afagar a arca, até ter sono. Enquanto dormia, um carvalho agradecido libertou-se do lenho, estirou-se até ele como se quisesse abraçá-lo e envolveu-o no seu silêncio, um velho silêncio de séculos.
Canavial
Interpretação: Tatiana Rocha
Tradução e interpretação em língua estrangeira: Leonardo Larizza (italiano), Katharina Baab (alemão), Bárbara Janicas (francês), Juṡ Ṡkraban (esloveno), Ayṣegül “Rosa” Aksoy (turco)
Como é abundantemente sabido, não é da natureza das árvores cederem à tentação das palavras. O que não quer dizer que não as percebam e guardem, durante mais tempo do que guardam nos seus troncos o nome dos namorados de parque.
Eis, por exemplo, o que pode soar entre elas:
«Amore mio, Meu amor,
Posso chiamarti così? Posso chamar-te assim? Com’è possibile che io ti abbia conosciuto soltanto quando eri sul punto di partire? Como é possível que eu te tenha conhecido só quando estavas para partir? Sembra un scherzo crudele. Parece uma partida cruel. Ti sogno tutto il tempo. Odio questa città che te ha chiamato qui e subito ti ha portato via. Detesto esta cidade que te chamou para logo me deixar sem ti.
«Meu amor, Meine Liebe,
Ich kann nicht glauben, dass du gegangen bist. Não consigo acreditar que te foste embora. Passo os dias a juntar saudades e trocos para te ir ver assim que possível. Ich schaue auf den Fluss und träume, dass du hier bist. Olho para o rio e sonho que estás aqui, mas a cidade ficou diferente sem ti. …aber die Stadt ist anders ohne dich.
«Mon amour, Meu amor,
Tous les jours je rêve de toi …Todos os dias sonho contigo … je cours après toi et je me réveille enlacée au silence qui couvre la ville depuis que tu es parti. Corro atrás de ti e acordo abraçada ao silêncio que cobre a cidade desde que tu te foste embora. Seul ce que tu m’as dit et ce que je t’ai dit restera pour toujours avec moi. Só o que me disseste e eu te disse ficará sempre comigo. Je passe mes jours à rassembler des souvenirs et des centimes pour te rejoindre, mais… Passo os dias a juntar saudades e trocos para ir ter contigo, mas…
«Meu amor, Draga moja,
Quem me dera ter-me esquecido de ti… Ko bi te le lahko pozabil. Impossível. Nemogoče. Ker spomin je kruta igra. Mas a memória é uma partida cruel. Včasih še vedno sanjam, da te vidim ob reki. De vez em quando ainda sonho que te vejo ao pé do rio… Sanjam, da si se vrnila, da si ob meni.…sonho que voltaste, que estás aqui ao meu lado. Vendar vem, da je to mesto zdaj popolnoma drugačno…Só que agora sei que toda a cidade é outra…
«Sevdiğim, Meu amor,
Sana hala sevdiğim diyebilir miyim ki? Posso chamar-te “meu amor”? Ne kelimeleri, ne kitabımın arasında bıraktığın yaprakları … Não quero gastar as palavras… hele de birlikte kurduğumuz …nem as folhas que deixaste entre as páginas do meu livro… ve artık asla gerçekleştiremeyeceğimiz hayalleri heba etmek istemiyorum …e muito menos os sonhos que tivemos juntos e que já não vamos poder realizar. Hala rüyalarımda seninle olduğum vakitler var. Há tempos sonhei que estava contigo…
«Meu amor,
Quem me dera que nunca tivesses partido. Gastei o coração em sonhos e o fígado desfez-se em melancolia. Já não espero que me reconheças se voltares, a cidade mudou-me sem descanso. Parece esgotada quando acaba o ano, mas aqui o ano acaba com o Verão e antes de começar o Outono já a cidade está preparada para tudo outra vez. Para tudo, outra vez.
«Mi amor…»
Pinheiro
Interpretação: Alexandra Silva
Vataça disse-me que antes de partir se pôs entre os pinheiros, a olhar pela última vez para o céu do Alentejo. As copas das árvores desenhavam um círculo quase perfeito e no centro, ao alto, o céu pardo feria de luz os olhos. A caruma compunha, aos olhos de Vataça, um delicada filigrana: podia ser a tiara de uma princesa, o halo de uma santa, a coroa de um pobre.
Contou-me que regressara num dia de mau tempo, dia mesmo de ninguém se pôr a nenhum caminho, mas veio porque a chamou Isabel. E ela – Vataça de Niceia, da Ligúria, de Aragão, de Coimbra, de Isabel, de Constança, de Afonso – regressou a Coimbra, que é como quem diz, voltou a Isabel. Por estradas rasgadas de raízes, deixou a paisagem plana do Sul, certa de que a ele não voltaria. Não havia, explicou-me, como não voltar a Isabel, mesmo num dia assim.
Chegaram meninas a Coimbra, cresceram juntas, brincavam quando Isabel era já rainha, sonhavam com as rosas e os milagres de Isabel de Hungria, aprendiam a viver entre homens e poetas, rezavam e fugiam. «A amizade», disse-me, «aproxima-nos muito de Deus.» Era o que tinham aprendido as duas durante uma vida de viagens e regressos: que a verdadeira fé singra como a sabedoria das árvores, aspira à altura sem nunca esquecer quanto precisa do chão. As árvores alimentam e conhecem os segredos da terra, dos bichos e dos pequenos de pés descalços. Nada clamam, nada exigem, são feitas para dar. «E assim é também a amizade», insistiu, «um exercício de doação.»
Vataça fez sua a mocidade de Isabel, o cuidado dos seus filhos, a semente alva da sua devoção. Nunca lhe apeteceu falar muito sobre as capelas, as lendas, as procissões ou os milagres, preferia falar sobre os miúdos ou sobre os caprichos das raízes e redizer-me os seus aforismos, como quem me ensinasse a bordar. Nesse dia, mostrou-me maravilhada como se libertava um pinhão da casca dura e quanto importava medir cuidadosamente a força. E enquanto me oferecia os frutos macios e brancos, explicava: «E assim é também a amizade: um exercício de cuidado.»
Já sabia, então, que não iria durar muito. Pedia a Deus que a levasse antes de Isabel viver o seu último dia e sabia que a esperava uma arca de pedra esculpida por túmulo. «Parece-me frio», disse-me. Mas estava conformada, porque ia ser guardada por várias águias com duas cabeças, todas bem instruídas para ficar de guarda, sempre e ao mesmo tempo, ao que importava: uma cabeça voltada para Isabel, a outra para o que houvesse de vir.
Vataça preferiu ser a coroa de um pobre. Da altura que tem, jura que a sua vista alcança, sempre e ao mesmo tempo, o azul do Mediterrâneo da infância e a mais pequena pedra do mosteiro de Santa Clara.
Laranjeira
Interpretação: Paula Santos
Beatriz, já velhinha e de mão trémula, mostrou-me com muito orgulho o que Hannah lhe tinha ensinado: sabia escrever o seu nome, muito bem desenhado, numa folha de papel. Aprendeu também a desenhar o nome de Hannah e fez-me ver como era engraçado o nome dela ser igual de trás para a frente e de frente para trás.
Explicou-me que, para Hannah, era um nome de duas cabeças: uma olhar para a Alemanha, a outra para Portugal, uma para o passado, outra para o presente, uma para a árvore, outra para a floresta. Para ela a fé era como uma mão estendida para o coração da terra, que ela não precisava de ver nem de mostrar para se sentir de raízes dadas aos seus.
Com os dedos tingidos de descascar laranjas, para ela e para mim, contou-me a velhota:
«Olhe que eu nunca a vi chorar, nem uma vez. Não falava da gente que tinha deixado, nem do que teria sido feito deles, mas falava muito das árvores da terra dela, onde ela brincava quando era miúda. Gostava muito de vir aqui para ao pé de mim e das laranjeiras, conversar comigo.
Foi uma grande sorte, menina. Se não fosse ela, ainda eu assinava de cruz. E eu nunca lhe ensinei nadinha. Era muito esperta, aprendeu a falar português num instante, nem uma palavrinha lhe dei para a troca. Mentira: uma vez ensinei-a a enxertar árvores e ela aprendeu logo a fazer o garfo. Mas achou muito engraçado, até me disse que ia escrever um poema sobre aquilo.
Era muito esperta, mesmo, e bonita, alta, bem arranjada, tinha os dedinhos finos e dentes bons, dava ares de não dever nada a ninguém, coitadinha, quem sabe o que lá ia dentro.
Não lhe vou mentir, eu estranhei-a muito, no princípio. Eram diferentes as moças que vieram nessa altura. Iam aos cafés, traçavam a perna, a menina Hannah só não fumava porque não gostava, mas algumas até bebiam um copito, que eu sei. Quando ela conseguia ir a Lisboa, era uma festa. Mas por cá estava muito sozinha, dizia que não tinha assunto com as portuguesas. Escrevia muitas cartas, isso escrevia, tinha correspondência com homens das letras, por causa dos poemas. E gostava muito de falar comigo e de comer laranjas, como tu. Não costumava receber notícias de ninguém, às vezes dizia-me das cartas que iam para a Alemanha e voltavam para trás, ninguém as recebia. Nesses dias, descascava-lhe uma ou duas laranjas e ficávamos por aqui, a falar a língua das laranjeiras, a língua de não falar.
Mas tinha muita graça: dizia que em Portugal nunca havia de casar, que a mãe dela não havia de querer, se é que ainda era viva. Perguntava-me o que era pior para nós, se era ter doença ou ter marido! Eu ria-me muito daquela cisma que ela tinha…
E gostava tanto de a ver escrever, que um dia pedi e ela ensinou-me. Ficámos sempre muito amigas. Ela dizia que tinha tido sorte com a cidade, que tinha boas laranjas e muito boas árvores, mas uma vez disse-me que o melhor que a cidade lhe tinha dado era o meu cuidado com ela. Dizia coisas assim, bonitas.
Uns dias depois de o meu marido morrer, que Deus o tenha, fomos as duas à Figueira ver o mar, foi muito bonito. Fomos as duas sozinhas e eu fui a um café, fumei e tudo. Ai menina, que Deus mo perdoe, mas a Hannah era a única pessoa a quem eu podia dizer, com franqueza, o alívio que foi ver-me viúva. Ver-me livre!»
Etrog
Uma alma pobre é como terra seca:
Sorve a mentira, como se água fosse.
Nascida da raiva, qualquer ervinha,
Mesmo daninha, lhe parece doce.
Julga que estar inchada é ser maior,
E ao alcançar a laranja que resta,
Acha-se juiz de toda a floresta
E da pureza da árvore credor.
Mas a quem do tronco esquece a ferida
A natureza ensina a ironia:
Como a laranja é fruto da enxertia,
De todas as espécies vem a vida.
De uma alma pobre nunca terá medo
O pomar que cresce, até em segredo.
O Eucalipto e a Araucária
Interpretação: Margarida Cabral
Eu tinha chegado a Coimbra há cinco ou seis dias, pouco mais, quando aconteceu: as cinzas começaram a cair na minha varanda e o cheiro a queimado entranhou-se na roupa, helicópteros riscavam um céu vermelho, a cidade (deserta em Agosto) parecia mais calada ainda, entre o fumo e a cinza. Eu não conhecia ninguém e nunca tinha visto o fogo chegar à porta de uma cidade. Fui a Vale de Canas seduzida pelo medo, ver como era.
Fui conhecer-te ali, no meio daquela ausência que era como o Inferno depois de ter passado o Inferno. Só aqui e ali uma folha poupada pelo vento, a tremer ainda verde na ponta de um galho em brasa. Eu nunca tinha visto uma coisa assim: o negro reluzia, a terra parecia uma papa estranha que se agarrava aos sapatos, vi árvores verdes de um lado e mortas do outro, o fumo a levantar-se da terra como se a terra quisesse gritar e não soubesse como.
Foste tu que me avisaste que por baixo da terra as raízes ainda ardiam, eu que visse onde punha os pés. Tu, no meio daquela tristeza, com os olhos cheios de árvores a querer rebentar, tu como um pomar cheio de graça e de sombra, com aquele ar de quem nem se dá conta. Com o mesmo ar com que uma semana depois, como quem não quer a coisa, me explicaste o que era “ver a foca em Vale de Canas”, a sorrir só por um cantinho da boca. E de repente eu tinha a casa cheia de plantas e a vida cheia de ti, com essa vontade toda que tu tinhas e a ratoeira da tua inteligência tão voraz como o teu carinho. Tu com as tuas palavras enormes, perenes como folhas, a rir-te do meu pavor enquanto crescias sem medo, através de mim e terra adentro.
Disse-te adeus com uma mudez ardida. Não há como explicar o que é uma casa sem ti. O silêncio que me sobrou era como o daquele dia e não há como viver nesse silêncio. Foi-me dado guardar o mapa pouco depois disso: senti-o como uma ironia.
Voltei a Vale de Canas dez anos e dez séculos depois, com um grupo de arboristas do Reino Unido, que vieram eufóricos montar a tenda na árvore mais alta da Europa. «Montar a tenda em Vale de Canas» tinha muita graça. Tive vontade de me rir contigo disso, mas nem tive coragem para lhes falar da foca, ri-me só para dentro. Subi pela primeira vez a uma árvore tão alta e lá em cima, a olhar para a araucária, percebi como a amizade pode ser um exercício de sobrevivência.
Então, fiz as pazes com todos os eucaliptos. Mas às vezes ainda sonho contigo. Sonho que cresço há anos sem conta ao teu redor, sobre ti, com jeito e sem remédio. Afeiçoo-me à tua forma, mas aumento-nos, elevo-te, acrescento-me. Sonho feliz e acordo perdida, depois exausta, como se a saudade cansasse.
Depois de ti e mesmo antes do mapa, comecei a viajar pelo país fora no tempo dos fogos, piores a cada Verão. Vi negrumes mais cruéis e vazios muito mais fundos, pessoas que podiam gritar e não gritavam. Comecei a plantar árvores em toda a parte, para devolver o verde aos olhos dessa gente e para não me sentir sozinha. Sempre que posso, volto às árvores, rego-as, livro-as do mato e da sombra das giestas, conto-lhes histórias. Admiro-as muito, porque nunca se cansam, porque sempre foram feitas para dar sem o saber e porque não contam nada a ninguém. Não dizem, por exemplo, que às vezes eu ainda sonho contigo, que mudei o país que era teu.
Mas o mapa guarda e honra os seus vazios, que ardem onde não podem ser vistos.
Arroz-dos-telhados
Interpretação: João Paulo Janicas
Eis a cidade e à volta dela a muralha ainda inteira, mas já mudada, a arquejar sob o sol quente e o ritmo da vida a bulir, dentro e fora de muros. Eis a muralha a ser um corpo dotado de um velho silêncio de séculos. Como seiva dentro dela, cada pedra no seu lugar guarda e liberta, aquece e arrefece, cada uma se opõe e alia a outras forças. Entre pedras, nesse escuro que é quente ou frio, conforme a hora, firme ou frenético, consoante a contingência, aí as temos: as dos muros e dos telhados. As que fazem de cada interstício um reino e entregam a vida ao raio de sol que não vêem, mas confiam que valerá a pena, valerá a luta pelo ângulo certo da pedra, pelo aconchego de uma falha que se possa abraçar como casa, por um lugar onde singrar.
Ninguém dá por elas, ninguém lhes apõe placas com os nomes em latim quando estão vivas, ninguém as sepulta em dignos herbários quando morrem, quase ninguém sabe sequer que têm nome. Ninguém as viu chegar e elas sempre aí, tentando, furando, trepando, elas vieram de todas as partes e foram para todas as partes, elas ouviram tudo o que as paredes ouviram, elas conhecem os segredos de todas as pedras, dos bichos e dos pequenos de pés descalços.
Mudaram com a muralha e a muralha mudou-as sem descanso. De Santa Cruz ao Castelo, da Porta da Traição à Porta de Belcouce, elas viram mudar de feição rossios e portas, elas escaparam por pouco ao escopro da gente de João de Ruão e cresceram pelos muros dos palácios, elas viram chegar os de Bordéus e viram-nos depois acossados, elas viram os muros ser engolidos por colégios e os colégios engolidos pelos Estudos, elas viram o castelo ceder ao observatório que nunca veio, elas fizeram companhia ao António na solidão que nunca passou e quando veio a mão pesada arrancar os salatinas dos seus muros, elas choraram com eles. Elas sempre deitaram um olho aos que ficaram de fora e aos que ainda estão de fora do muro que já quase nem existe. Elas não sabem ser «património mundial», mas viram chegar todas as placas, escritas em línguas já tão distantes do latim dos botânicos.
Elas guardam todos os que vieram sem nomes gravados em papéis ou placas. Todos os que, com o tempo próprio das árvores e das grandes muralhas, vieram de toda a parte para dar forma à cidade, sem que ninguém os visse chegar, cavar, bordar, nascer, penar, parir, fazer, tentar, durar. Quis o mapa fazer deles os guardiães da memória maior e que se aguentassem pelos muros, como arroz-dos-telhados. Para lá da língua que verdeja à superfície caiada, eles conhecem por dentro a parede, eles fizeram-na, eles aprenderam na intimidade com as pedras que a sobrevivência é um exercício de amizade.
É claro que a muralha continuará a cair e com ela as plantas e todos eles com elas. É claro que volta e meia lá virá aquela mão pesada e daninha, tomada pela obsessão das paredes brancas e sem memória, arranca-las sem piedade.
Mas o mapa sabe que não adianta: que elas aguentam, que elas voltam a furar por outra banda, que o muro precisa mais delas do que qualquer um precisa de um muro. Vieram do aperto, dos rigores, do calor e da angústia, nasceram no escuro e à míngua e todos os dias, todos os dias com renovada paciência, vão estendendo os seus bracinhos finos e firmes para todos os lados, como se fossem caminhos, como se pudessem ser laços.
Ficus macrophylla
Interpretação: João Curto
«Chamemos-lhe antes assim: Viagens a-philosophicas (com p e h) ou Dissertação sobre as importantes regras que o philosopho (com p e h) naturalista, na sua peregrinação por este jardim, deve absolutamente ignorar. Primeiro capítulo: Da necessidade dos diários e do methodo de os desfazer
Não há hoje humana árvore que não esteja persuadida da necessidade dos herbários, perdão, diários. Não basta que o Naturalista conheça os produtos da natureza, também é necessário que ele assine os diversos lugares do seu nascimento, designadamente do nascimento do próprio Naturalista enquanto produto da natureza, os caminhos e jornadas que fez nas suas vegetações, digo, peregrinações e outras muitas circunstâncias que mostram essa desnecessidade…»
Sem surpresa, encontrei Vandelli na figueira e dispus-me a apontar todas as instruções minuciosamente ditadas.
«Sempre que o Naturalista chegue a uma cidade, deve cultivar a sua floresta de pedra. E quando chegar ao Jardim para indagar das suas culturas humanas, deve procurar o que «é preto e galinha o fez», a folha do eucalipto que cheira a limão e os ninhos dos melros entre os arbustos.
O Naturalista deve exceder os limites do Jardim, computar o número de habitantes e notar a sua situação, com especial sensibilidade aos hábitos dos nativos e sem guardar rancor a Brotero, que é afinal um notável exemplar de cultura, apesar de nunca se levantar para cumprimentar ninguém. Na sua peregrinação, deve manter-se especialmente distraído de toda a presença humana e assim procedendo com método, logrará seguramente ignorar o risco do galês Oakley e de Jacob Sarmento e Castro, que nunca medrou, bem como desencontrar-se de Dalla Bella e do amável Júlio Henriques, que estará a fazer todas as coisas ao mesmo tempo como sempre, ou então a conversar com o Moritz Wilkomm, que afinal veio com o Herbário. Quanto a Edmund Goeze, saiba o Naturalista que o ilustre fundador do Index Seminum não padece do mau feitio de que é injustamente acusado pelas carnívoras, com os seus rumores maliciosos. Afinal, o homem voltou e sempre foi por seu labor que vieram as sementes dos Açores, do Jardin de Paris e dos Kew Gardens. O mais provável é que continue a praticar a língua de não falar em animado diálogo com o Populus, digo, o Möller. Deve o Naturalista abster-se de notar que o assunto será algo relacionado com exercícios subterrâneos de doação e de sobrevivência, ou então falarão sobre ripícolas e rupícolas, sem um galho de metafísica.
O Naturalista deve examinar com especial atenção a sombra da mata e o modo como o sol se dá ao entrar na estufa e, nos primeiros dias do mês de Junho, deve cingir-se a medir com rigor o doce olor das tílias. Ao fazê-lo, é imperioso que o Naturalista se mantenha em guarda, pois a qualquer momento pode ser descoberto pelas espécies, exóticas ou autóctones, e prontamente classificado segundo o Sistema de Lineu. Deve enfim evitar qualquer encontro com Olea europea L., Sedum album, L., Bambusoideae, Pinus Pinea, Quercus faginea, Citrus medica, Citrus sinensis, Auraucaria bidwilli ou Eucalyptus diversicolor. Qualquer delas tagarela muito e o Naturalista perderá muito tempo, porventura necessário para trocar juras de amor eterno nos bancos mais recatados do jardim ou contar peixes no lago…»
Quando enfim terminou o ditado das suas preciosas instruções, Vandelli explicou-me que foi achado pela figueira num dia em que se encontrava especialmente absorto. De acordo com os usos da época, a figueira alojou as suas sementes na copa do seu hospedeiro e prosseguiu lançando raízes em direcção ao chão, consumindo todos os seus recursos e estrangulando-o até o fazer desaparecer completamente no seu seio. Foi primeiramente nomeado Domenicus Vandellis Conimbrigae, em razão do local exótico em que foi encontrado. Mais tarde, o seu nome seria alterado para Ficus Maxima Vandellia, em homenagem à monumental Figueira que o engoliu. Digo, que o descobriu.
Ficha Artística
Tarrafo – Produção e Criação Artística
Criação para o Semestre Europa, uma encomenda Convento São Francisco/CMC
Tarrafo — Incubadora Cultural
Rua Engenheiro Jorge Anjinho
Lote 12, 4ºC, 3030-482 Coimbra
info@tarrafo.pt
+351 914 744 430